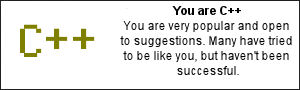Depois de mais um longo dia de trabalho, Rogério entra em seu carro, para iniciar a jornada de retorno ao lar. Como se estivesse num ritual, ele tira a gravata, desabotoa a camisa, coloca a chave na ignição, sente o volante com as mãos e o assento com as costas, para só então ligar o motor e sair de sua vaga no estacionamento. Assim, ele lentamente prepara tanto seu corpo quanto sua mente para os trinta minutos de viagem pela frente - não por que a viagem fosse especialmente sofrida ou exigente. Na verdade, ele fazia todas estas preparações por que aqueles trinta minutos seriam os únicos em todo o seu dia em que ele se sentiria realmente feliz, e queria aproveitá-los ao máximo.
De forma tão ordenada quanto seu ritual, e de forma tão determinada quanto a estrada que o leva para casa, seus pensamentos também seguem o mesmo caminho de sempre, o mesmo caminho de todos os dias. Quando se senta dentro do carro e começa a tirar a gravata, Rogério pensa "que dia longo e cansativo." Quando desabotoa a camisa, ele volta sua atenção para seu pescoço, e, outra vez, percebe que ele está dolorido. Ao colocar a chave na ignição e sentir o volante em suas mãos, ele checa a quantidade de gasolina no tanque, e recapitula as últimas visitas que fizera ao mecânico. Finalmente, ele joga suas costas contra o assento, vira a chave na ignição e parte do seu local de trabalho. Finalmente, por que este é o ponto alto de seu dia. Na curta distância entre sua vaga no estacionamento e o portão de saída, Rogério é um Buda Iluminado, imperturbado e imperturbável - nenhum pensamento lhe constrange, nenhuma emoção o afeta, nenhuma sensação o altera. Este momento, porém, é curto, e assim que ele se vê de novo na mesma autoestrada que vê todos os dias, tanto indo, quanto voltando de casa, ele é outra vez visitado por um velho companheiro. Pelos primeiros dois ou três quilômetros, Rogério finge que seu amigo não está ali, diz para si mesmo que é perda de tempo gastar sua energia pensando nisso, coloca alguma música para tocar no rádio, cantarola para si. Seu companheiro, contudo, é persistente, e permanece ali, sussurrando no ouvido de Rogério, lembrando-o de que ele ainda está ali, juntinho dele, e que não irá a lugar nenhum nos próximos trinta minutos.
No quarto ou quinto quilômetro, quando percebe que não conseguirá fazer seu amigo ir embora, Rogério se resigna. Normalmente, isto acontece quando ele passa por aquela árvore engraçada na beira da estrada. A árvore não era tão engraçada assim - se Rogério tivesse a mostrado para outra pessoa, ela provavelmente perguntaria "o que essa árvore tem de especial?" Nada, ele diria. Nada que os outros possam ver, pelo menos. O que aquela árvore tinha de engraçado, de especial, era que ela lembrava Rogério de tempos mais leves, mais felizes. Era aquele eucalipto que ficava do lado do prédio de salas de aula de sua antiga faculdade em Porto Alegre, onde ele e seus amigos tantas vezes se apoiaram e tomaram chimarrão, dormiram sob sua sombra, conversaram, riram e até mesmo choraram. Geralmente, eram essas lembranças que faziam Rogério resignar-se com a companhia que tinha para a viagem, e a conversar com ele.
Este companheiro, como a coisa engraçada da árvore, não era nada que outras pessoas poderiam ver - era etéreo, e acessível apenas para Rogério. Ele o chamava de vários nomes; normalmente, tentando diminuir seu tamanho dentro do carro, ele o chamava de "meu superego", e fazia algumas piadas sobre o duvidoso estatuto científico da psicanálise; outras, quando ele estava com dor de cabeça, ele o chamava de "essa idéia outra vez", para poupar trabalho de pensar a respeito. Porém, quando ele estava mais lúcido, e via o mundo ao seu redor com mais clareza, o nome que ele dava para o seu companheiro era o mais simples, e o mais contundente. Nesses dias, ele o chamava de "Minha Pergunta."
Sim, sua pergunta, por que do sexto quilômetro da viagem em diante, ele tentava de algum jeito responder à pergunta que seu companheiro, tão execrado e ainda assim tão querido, lhe fazia: "por que eu ainda estou aqui?"
Nesses dias, pelo menos naquele trecho do espaço e tempo, Rogério deixava junto de sua gravata todas as as suas defesas, suas desculpas e seus temores, fazia um balanço geral de sua vida e chegava à uma conclusão, a mesma de sempre, e jurava para si próprio que, com base nessa conclusão, ele mudaria tudo em sua vida. Contudo, essa forte resolução sumia no momento em que ele, já fora do carro e dentro de sua casa, escutava a voz de sua mulher, Dóris. Por ela, Rogério abandonou toda sua vida prévia: sua família, seus amigos, seu emprego e sua cidade, tudo para ir morar com ela. Era a Dóris quem ele culpava por se encontrar em tão miserável situação e, paradoxalmente, era por causa dela que ele não fazia absolutamente nada para mudar.
A ironia não passa desapercebida de Rogério nesses dias, por que, nesses dias, sem nenhum véu a cobrir seus olhos, ele vê as suas fraquezas pessoais expostas, e o preço que ele paga por evitá-las. Com as mãos no volante, ele sabe que sua coragem vai desaparecer quando tirar o pé do acelerador e colocá-lo no chão de sua garagem, que sua raiva se transformará em contida resignação, e o grito de dor entalado na garganta será suprimido para poder dizer, sem nenhum tremor que o denuncie, "oi amor, como foi seu dia?" para sua mulher. Ele sabe de tudo isso, e portanto, deseja ainda mais aproveitar os trinta minutos de liberdade que tem entre a escravidão apática de seu emprego e o doce cárcere da paixão que tem em seu lar.
"Por que eu ainda estou aqui?" Rogério se pergunta, e encontra muitas maneiras de responder à esta questão. Primeiro, como bom intelectual, ele faz uma retomada histórica, explicando cronologicamente como chegara ali. Recorda os primeiros meses de faculdade, as primeiras baladas, as primeiras bebedeiras, os primeiros beijos. Sem se deter na nostalgia dos detalhes, ele lembra como e quando encontrou Dóris pela primeira vez. De saia branca nos joelhos, sapatilha preta e gel nos longos cabelos castanhos, ela ia para uma festa, a mesma que Rogério iria. Alguma coisa nela chamou sua atenção, e, do mesmo modo, algo nele chamou a atenção dela. Não demorou muito para que na festa ambos se procurassem e se agarrassem com desejo. Entre um beijo demorado e outro, conversavam bastante. Percebiam que tinham muito em comum, e que simpatizavam muito um com outro por serem tão parecidos. Com a distância do tempo e a clareza da estrada, Rogério acompanha, como quem relê um romance, a meteórica paixão que nasceu naquela festa. Ele, moço e inexperiente, nunca tinha tido um "relacionamento sério" antes, e não sabia exatamente o que fazer com um. Ela tampouco tinha experiência nessa seara, mas tinha muitas idéias sobre como um "relacionamento sério" deveria ser. Aqui, Rogério pega um cigarro e começa a fumar, por que aqui ele percebe onde as coisas começaram a dar errado.
Com nicotina no sangue, Rogério vai mais rápido em sua análise. Lembra como Dóris era romântica, e assistia a todos aqueles filmes água com açúcar que lhe davam sono, de tão previsíveis que eram. Lembra do dia em que ela, muito séria, veio lhe dizer que se mudaria para muito longe com sua família, e queria saber se ele continuaria a amando. Ele, atordoado pela notícia, ficou sem palavras. Gostava dela tanto assim? Manteria o namoro como ela queria? Enquanto recorda das lágrimas nos olhos de Dóris quando lhe disse naquele dia que não sabia, Rogério olha outra vez para o medidor de gasolina. "Quase vazio" diz para si mesmo de forma mecânica. Na verdade, o tanque está pela metade, o que daria para fazer aquele trajeto pelo menos umas sete ou oito vezes mais. Entretanto, parar no posto de gasolina logo em frente lhe acrescentaria mais quatro ou cinco minutos ao tempo total de viagem. Seriam mais quatro ou cinco minutos de liberdade, de solidão, para aproveitar a súbita lucidez que tomou conta de seu cérebro.
Pára o carro, desce e vai até a lojinha do posto pra comprar balas de hortelã enquanto o frentista enche o tanque. Faz um esforço pra lembrar onde havia parado. Sim, as lágrimas de Dóris. Sempre que ela chorava, ele cedia e fazia o que ela pedia. Não apenas as lágrimas, mas as acusações também o sensibilizavam tremendamente, especialmente insultos como "seu insensível" e "você é frio." Foi assim que o relacionamento se manteve, por cinco anos, à distância - todas as vezes que Rogério manifestava estar descontente, Dóris acusava-o de querer traí-la, de não amá-la, de ser frio e insensível. Ele se rendia, e então, ela voltava a ser a criatura amável de sempre, e fazia planos de irem morar juntos, casarem, terem filhos, envelhecerem juntos e serem felizes para sempre. Por algum motivo que ele não sabia explicar, Rogério detestava estas conversas. "Papo Conto de Fada", ele os chamava, mas apenas para si, por que temia enfurecer Dóris, caso ela percebesse a nota de desprezo que poderia aparecer em sua voz. Não é que ele não gostasse de Dóris - na maior parte do tempo, ela era uma garota bastante do seu agrado: atraente, sorria com freqüência, amante fogosa e com uma conversa razoável. Aqui, enquanto fumava mais um cigarro, e esperava o frentista lavar o parabrisa, Rogério encontrou a resposta para sua pergunta: eu ainda estou aqui por causa de Dóris.
Será que eu amo ela? Ele se perguntou, mas não, não era essa a pergunta que lhe incomodava. Ainda hoje, ele sabia que gostava de Dóris, e que era um homem de sorte por ter se casado com ela. O que ele não sabia era: valeu à pena vir até aqui?
Com as mãos outra vez firmes no volante, ele recapitula o último ano. Faltando um ano para sua formatura, Dóris lhe telefonou para lhe dar as boas novas: tinha conseguido um emprego longe da casa dos pais, e queria que ele se mudasse com ela. Rogério, já sabendo que se dissesse "não sei", ou qualquer outra coisa que indicasse hesitação, faria Dóris chorar, aceitou o convite. Pediu transferência na faculdade e conseguiu também um emprego próximo do de Dóris, deixando para trás toda sua história.
Faltando quinze minutos para estacionar seu carro em casa, ele chega à velha e temida conclusão de sempre: valeu à pena? Não, não valeu, ele responde para si sem hesitar. Seu trabalho atual era, na melhor das hipóteses, medíocre. A cidade onde moravam era morta e o relacionamento caminhava para destino similar. Rogério sabia que, passadas os primeiros momentos de carinho, Dóris o encheria de perguntas - por que demorou tanto? Por que olhou para a vizinha? Por que ele quase não conversava mais com ela? Dependendo da resposta que desse, e do humor de Dóris nesse dia, ele sabia que ela choraria, e ele outra vez cederia ao seu pranto. Vale à pena?
E eu, pergunta Rogério, com raiva. E eu? Como fico? Todos os planos que abandonei para ficar com ela, neste fim de mundo? É assim que ela retribui meu amor? Nunca sou o bastante, e, ao mesmo tempo, não posso viver minha vida sem que ela chore e implore por mim! É isso que eu quero para mim?
Falta agora apenas um quilômetro para Rogério chegar em casa. Três minutos, quatro talvez, antes dele chegar em casa. Era pouco tempo, e uma eternidade ao mesmo tempo. Mais uma vez, ele encontrou a resposta que seu companheiro queria - ir embora, isso era o que Rogério mais desejava. Teria ele coragem de dizer isso para Dóris, depois de tanto tempo? Deveria ele aproveitar o a distância que ainda tem para tentar uma fuga alucinada pela cidade? Não, não, já não há mais como: o portão da garagem já está aberto, e ele entra com o carro, da mesma maneira que sempre entrou. Será que, dessa vez, acontecerá o mesmo que sempre acontece quando ele entrar em casa?
De forma tão ordenada quanto seu ritual, e de forma tão determinada quanto a estrada que o leva para casa, seus pensamentos também seguem o mesmo caminho de sempre, o mesmo caminho de todos os dias. Quando se senta dentro do carro e começa a tirar a gravata, Rogério pensa "que dia longo e cansativo." Quando desabotoa a camisa, ele volta sua atenção para seu pescoço, e, outra vez, percebe que ele está dolorido. Ao colocar a chave na ignição e sentir o volante em suas mãos, ele checa a quantidade de gasolina no tanque, e recapitula as últimas visitas que fizera ao mecânico. Finalmente, ele joga suas costas contra o assento, vira a chave na ignição e parte do seu local de trabalho. Finalmente, por que este é o ponto alto de seu dia. Na curta distância entre sua vaga no estacionamento e o portão de saída, Rogério é um Buda Iluminado, imperturbado e imperturbável - nenhum pensamento lhe constrange, nenhuma emoção o afeta, nenhuma sensação o altera. Este momento, porém, é curto, e assim que ele se vê de novo na mesma autoestrada que vê todos os dias, tanto indo, quanto voltando de casa, ele é outra vez visitado por um velho companheiro. Pelos primeiros dois ou três quilômetros, Rogério finge que seu amigo não está ali, diz para si mesmo que é perda de tempo gastar sua energia pensando nisso, coloca alguma música para tocar no rádio, cantarola para si. Seu companheiro, contudo, é persistente, e permanece ali, sussurrando no ouvido de Rogério, lembrando-o de que ele ainda está ali, juntinho dele, e que não irá a lugar nenhum nos próximos trinta minutos.
No quarto ou quinto quilômetro, quando percebe que não conseguirá fazer seu amigo ir embora, Rogério se resigna. Normalmente, isto acontece quando ele passa por aquela árvore engraçada na beira da estrada. A árvore não era tão engraçada assim - se Rogério tivesse a mostrado para outra pessoa, ela provavelmente perguntaria "o que essa árvore tem de especial?" Nada, ele diria. Nada que os outros possam ver, pelo menos. O que aquela árvore tinha de engraçado, de especial, era que ela lembrava Rogério de tempos mais leves, mais felizes. Era aquele eucalipto que ficava do lado do prédio de salas de aula de sua antiga faculdade em Porto Alegre, onde ele e seus amigos tantas vezes se apoiaram e tomaram chimarrão, dormiram sob sua sombra, conversaram, riram e até mesmo choraram. Geralmente, eram essas lembranças que faziam Rogério resignar-se com a companhia que tinha para a viagem, e a conversar com ele.
Este companheiro, como a coisa engraçada da árvore, não era nada que outras pessoas poderiam ver - era etéreo, e acessível apenas para Rogério. Ele o chamava de vários nomes; normalmente, tentando diminuir seu tamanho dentro do carro, ele o chamava de "meu superego", e fazia algumas piadas sobre o duvidoso estatuto científico da psicanálise; outras, quando ele estava com dor de cabeça, ele o chamava de "essa idéia outra vez", para poupar trabalho de pensar a respeito. Porém, quando ele estava mais lúcido, e via o mundo ao seu redor com mais clareza, o nome que ele dava para o seu companheiro era o mais simples, e o mais contundente. Nesses dias, ele o chamava de "Minha Pergunta."
Sim, sua pergunta, por que do sexto quilômetro da viagem em diante, ele tentava de algum jeito responder à pergunta que seu companheiro, tão execrado e ainda assim tão querido, lhe fazia: "por que eu ainda estou aqui?"
Nesses dias, pelo menos naquele trecho do espaço e tempo, Rogério deixava junto de sua gravata todas as as suas defesas, suas desculpas e seus temores, fazia um balanço geral de sua vida e chegava à uma conclusão, a mesma de sempre, e jurava para si próprio que, com base nessa conclusão, ele mudaria tudo em sua vida. Contudo, essa forte resolução sumia no momento em que ele, já fora do carro e dentro de sua casa, escutava a voz de sua mulher, Dóris. Por ela, Rogério abandonou toda sua vida prévia: sua família, seus amigos, seu emprego e sua cidade, tudo para ir morar com ela. Era a Dóris quem ele culpava por se encontrar em tão miserável situação e, paradoxalmente, era por causa dela que ele não fazia absolutamente nada para mudar.
A ironia não passa desapercebida de Rogério nesses dias, por que, nesses dias, sem nenhum véu a cobrir seus olhos, ele vê as suas fraquezas pessoais expostas, e o preço que ele paga por evitá-las. Com as mãos no volante, ele sabe que sua coragem vai desaparecer quando tirar o pé do acelerador e colocá-lo no chão de sua garagem, que sua raiva se transformará em contida resignação, e o grito de dor entalado na garganta será suprimido para poder dizer, sem nenhum tremor que o denuncie, "oi amor, como foi seu dia?" para sua mulher. Ele sabe de tudo isso, e portanto, deseja ainda mais aproveitar os trinta minutos de liberdade que tem entre a escravidão apática de seu emprego e o doce cárcere da paixão que tem em seu lar.
"Por que eu ainda estou aqui?" Rogério se pergunta, e encontra muitas maneiras de responder à esta questão. Primeiro, como bom intelectual, ele faz uma retomada histórica, explicando cronologicamente como chegara ali. Recorda os primeiros meses de faculdade, as primeiras baladas, as primeiras bebedeiras, os primeiros beijos. Sem se deter na nostalgia dos detalhes, ele lembra como e quando encontrou Dóris pela primeira vez. De saia branca nos joelhos, sapatilha preta e gel nos longos cabelos castanhos, ela ia para uma festa, a mesma que Rogério iria. Alguma coisa nela chamou sua atenção, e, do mesmo modo, algo nele chamou a atenção dela. Não demorou muito para que na festa ambos se procurassem e se agarrassem com desejo. Entre um beijo demorado e outro, conversavam bastante. Percebiam que tinham muito em comum, e que simpatizavam muito um com outro por serem tão parecidos. Com a distância do tempo e a clareza da estrada, Rogério acompanha, como quem relê um romance, a meteórica paixão que nasceu naquela festa. Ele, moço e inexperiente, nunca tinha tido um "relacionamento sério" antes, e não sabia exatamente o que fazer com um. Ela tampouco tinha experiência nessa seara, mas tinha muitas idéias sobre como um "relacionamento sério" deveria ser. Aqui, Rogério pega um cigarro e começa a fumar, por que aqui ele percebe onde as coisas começaram a dar errado.
Com nicotina no sangue, Rogério vai mais rápido em sua análise. Lembra como Dóris era romântica, e assistia a todos aqueles filmes água com açúcar que lhe davam sono, de tão previsíveis que eram. Lembra do dia em que ela, muito séria, veio lhe dizer que se mudaria para muito longe com sua família, e queria saber se ele continuaria a amando. Ele, atordoado pela notícia, ficou sem palavras. Gostava dela tanto assim? Manteria o namoro como ela queria? Enquanto recorda das lágrimas nos olhos de Dóris quando lhe disse naquele dia que não sabia, Rogério olha outra vez para o medidor de gasolina. "Quase vazio" diz para si mesmo de forma mecânica. Na verdade, o tanque está pela metade, o que daria para fazer aquele trajeto pelo menos umas sete ou oito vezes mais. Entretanto, parar no posto de gasolina logo em frente lhe acrescentaria mais quatro ou cinco minutos ao tempo total de viagem. Seriam mais quatro ou cinco minutos de liberdade, de solidão, para aproveitar a súbita lucidez que tomou conta de seu cérebro.
Pára o carro, desce e vai até a lojinha do posto pra comprar balas de hortelã enquanto o frentista enche o tanque. Faz um esforço pra lembrar onde havia parado. Sim, as lágrimas de Dóris. Sempre que ela chorava, ele cedia e fazia o que ela pedia. Não apenas as lágrimas, mas as acusações também o sensibilizavam tremendamente, especialmente insultos como "seu insensível" e "você é frio." Foi assim que o relacionamento se manteve, por cinco anos, à distância - todas as vezes que Rogério manifestava estar descontente, Dóris acusava-o de querer traí-la, de não amá-la, de ser frio e insensível. Ele se rendia, e então, ela voltava a ser a criatura amável de sempre, e fazia planos de irem morar juntos, casarem, terem filhos, envelhecerem juntos e serem felizes para sempre. Por algum motivo que ele não sabia explicar, Rogério detestava estas conversas. "Papo Conto de Fada", ele os chamava, mas apenas para si, por que temia enfurecer Dóris, caso ela percebesse a nota de desprezo que poderia aparecer em sua voz. Não é que ele não gostasse de Dóris - na maior parte do tempo, ela era uma garota bastante do seu agrado: atraente, sorria com freqüência, amante fogosa e com uma conversa razoável. Aqui, enquanto fumava mais um cigarro, e esperava o frentista lavar o parabrisa, Rogério encontrou a resposta para sua pergunta: eu ainda estou aqui por causa de Dóris.
Será que eu amo ela? Ele se perguntou, mas não, não era essa a pergunta que lhe incomodava. Ainda hoje, ele sabia que gostava de Dóris, e que era um homem de sorte por ter se casado com ela. O que ele não sabia era: valeu à pena vir até aqui?
Com as mãos outra vez firmes no volante, ele recapitula o último ano. Faltando um ano para sua formatura, Dóris lhe telefonou para lhe dar as boas novas: tinha conseguido um emprego longe da casa dos pais, e queria que ele se mudasse com ela. Rogério, já sabendo que se dissesse "não sei", ou qualquer outra coisa que indicasse hesitação, faria Dóris chorar, aceitou o convite. Pediu transferência na faculdade e conseguiu também um emprego próximo do de Dóris, deixando para trás toda sua história.
Faltando quinze minutos para estacionar seu carro em casa, ele chega à velha e temida conclusão de sempre: valeu à pena? Não, não valeu, ele responde para si sem hesitar. Seu trabalho atual era, na melhor das hipóteses, medíocre. A cidade onde moravam era morta e o relacionamento caminhava para destino similar. Rogério sabia que, passadas os primeiros momentos de carinho, Dóris o encheria de perguntas - por que demorou tanto? Por que olhou para a vizinha? Por que ele quase não conversava mais com ela? Dependendo da resposta que desse, e do humor de Dóris nesse dia, ele sabia que ela choraria, e ele outra vez cederia ao seu pranto. Vale à pena?
E eu, pergunta Rogério, com raiva. E eu? Como fico? Todos os planos que abandonei para ficar com ela, neste fim de mundo? É assim que ela retribui meu amor? Nunca sou o bastante, e, ao mesmo tempo, não posso viver minha vida sem que ela chore e implore por mim! É isso que eu quero para mim?
Falta agora apenas um quilômetro para Rogério chegar em casa. Três minutos, quatro talvez, antes dele chegar em casa. Era pouco tempo, e uma eternidade ao mesmo tempo. Mais uma vez, ele encontrou a resposta que seu companheiro queria - ir embora, isso era o que Rogério mais desejava. Teria ele coragem de dizer isso para Dóris, depois de tanto tempo? Deveria ele aproveitar o a distância que ainda tem para tentar uma fuga alucinada pela cidade? Não, não, já não há mais como: o portão da garagem já está aberto, e ele entra com o carro, da mesma maneira que sempre entrou. Será que, dessa vez, acontecerá o mesmo que sempre acontece quando ele entrar em casa?