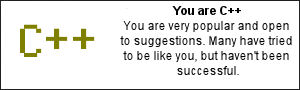Como alguns dos meus leitores devem se lembrar, tempos atrás, comecei a escrever uma série de posts sobre utopias, isto é, sociedades humanas que funcionam de maneira perfeita e auto-sustentável. Como tais sociedades não existem de fato, pelo menos não ainda, tive que buscar meus exemplos em livros. A primeira utopia que comentei, em
dois posts
separados, foi "Walden II", imaginada pelo psicólogo B.F. Skinner e fundamentada pelos princípios das ciências do comportamento. O livro seguinte que eu comentei aqui foi "
Horizonte Perdido", de James Hilton. Por fim, o último livro "utópico" que comentei não tratava de fato de uma utopia, mas de uma idéia que considerei muito próxima - "
Sebastopol", de Tolstoi, e a idéia da paz atingida através da guerra. No final deste texto, disse que demoraria para ler outro livro sobre utopias, mas que não abandonaria a idéia de escrever mais a respeito do assunto por aqui.
Preciso dizer que menti. Na época em que este último post foi publicado, tinha recém começado a ler "A Ilha", de Aldous Huxley, e achei a história tão envolvente que terminei de lê-la em tempo recorde. Entretanto, não consegui escrever com o mesmo entusiasmo. Comecei dois rascunhos diferentes, mas em nenhum dos dois consegui passar do terceiro parágrafo. Consegui, isso sim, escrever uma monografia com o título de "O Trabalho nas Utopias e na Realidade", comparando as condições de trabalho em "A Ilha", "Walden II" e o mundo real, tentando encontrar pontos em comum. A proposta dessa monografia era bem distinta do que pretendo fazer aqui para o blog, mas utilizarei algumas partes dela para fundamentar meu texto (e me ajudar a lembrar da história de "A Ilha", já que faz um bom tempo desde que a li).
Tendo lido já alguma coisa sobre utopias, me sinto tranquilo o bastante para dizer que toda a literatura utópica busca responder às seguintes questões:
1) Quais foram as contingências geográficas e históricas que permitiram tal sociedade se desenvolver de maneira contínua e segura?
2) Qual modelo econômico foi por ela adotado, de que maneira os recursos naturais e humanos são utilizados e como ele garante o bem-estar da população?
3) Como são tratadas as questões comportamentais, individuais e coletivas, da população e suas principais instituições (vida em família, vida amorosa, amizades, vida em comunidade, trabalho, lazer, educação, saúde, religião)?
4) Qual o sistema político de tal sociedade, e como sua "administração central" (se esta existir) gerencia as questões anteriores, bem como as relações com outras sociedades e estados?
Estas perguntas, em última análise, são componentes de uma outra pergunta que o autor deve responder se deseja realmente descrever uma utopia: por que esta sociedade é perfeita, e por que deveríamos invejá-la? Cada livro da literatura utópica é, de certa forma, a vitrine das idéias de seu criador, que mostra aos demais como o mundo seria perfeito se todos resolvessem adotar os seus princípios e aplicá-los à realidade (ou, de maneira inversa, por que o mundo é a bagunça que é, e o que estamos fazendo de errado). Em outros termos: o autor é um vendedor, sua ideologia é seu produto e a utopia que ele descreve é sua vitrine. Alguns escritores são mais felizes do que outros nessa empreitada. Por exemplo, em "Horizonte Perdido", James Hilton parece estar mais interessado em contar uma história e estimular a imaginação dos seus leitores do que em convencê-los de que aquilo que acontece em Shangri-Lá fica em Shangri-Lá deveria acontecer no resto do planeta. Por outro lado, em "Walden II", Skinner só não escreveu um epílogo dizendo "acreditem em mim, gente, condicionamento operante é a coisa mais maravilhosa que existe" por que seria redundante, já que o livro inteiro é quase um infomercial de Walden II (é possível ler nas entrelinhas um "mas espere! Ainda tem mais!" entre um capítulo e outro). Tolstoi, que em "Sebastopol" não descreve uma utopia, também é bastante claro a respeito do que ele acredita ser certo ou errado.
Aldous Huxley em "A Ilha" é mais sutil que Skinner, e muito mais claro do que Hilton a respeito da mensagem que quer passar, por que, ao mesmo tempo que descreve os componentes de sua sociedade ideal, não descuida dos aspectos estéticos da história que conta. Ela começa com Will Farnaby, o personagem principal, naufragando no Oceano Índico, e indo parar na ilha de Pala, que era onde ele originalmente desejava chegar. Farnaby é jornalista, e um agente pago por uma grande empresa petrolífera para infiltrar-se em Pala, desestabilizar o governo local por dentro, e submetê-lo ao comando do ditador da ilha vizinha, Rendang. No princípio, apesar da hospitalidade da população local, que o recebe e cuida de seus ferimentos como se fosse filho de Pala, ele colabora com as forças que desejam destruir a harmonia da ilha para aumentar sua riqueza material e poder. Entretanto, conforme vai conhecendo o lugar, seu funcionamento, e vive experiências purificadoras, Farnaby abandona seu cinismo e, ainda que seja tarde demais para salvar Pala, ele consegue ver claramente a beleza daquela sociedade. Não vou dar mais detalhes da história, tanto por que não quero estragar a leitura de quem se interesse, quanto por que eu sinceramente não lembro de muitos detalhes. O que eu vou falar, e que ainda me lembro, é da maneira como Huxley tentou responder às quatro perguntas que formulei anteriormente.
A ilha de Pala, apesar de naturalmente cheia de recursos, é isolada do resto do mundo por sua geografia, contando com apenas um porto natural, sendo todo o resto da costa impossível de atracar, ou pelo menos muito perigoso de navegar. Era como qualquer outra monarquia pobre da Ásia, com um povo supersticioso e fisicamente pouco saudável até a chegada de um médico britânico. Este médico, cujo nome me escapa agora, fora contratado para tratar o Rajá de um câncer na mandíbula. Tal operação não era sua especialidade, mas a realizou assim mesmo, com a ajuda de técnicas de sugestão e hipnose. O Rajá, agora a salvo de doenças terminais, ficou impressionado com as capacidades cognitivas do médico, e pediu para que ele ficasse em Pala e o ajudasse a fazer o que se pode chamar de uma completa reforma cultural na ilha. Aqui, fica óbvio para o leitor de "A Ilha" o que Huxley imaginara como a sociedade perfeita: uma fusão harmoniosa entre o melhor da ciência ocidental e o melhor da ética e espiritualidade oriental.
Esta revolução cultural, diferente da realizada em "Walden II", levou pelo menos três gerações, e envolveu mudanças graduais, porém profundas, nas práticas dos habitantes de Pala. Primeiro, o médico britânico conquistou o apoio da população feminina introduzido técnicas de higiene que em muito diminuiram as mortes durante o parto, bem como a qualidade de vida em geral. Depois disso, já contando com a confiança pública, ele pode ser dar ao luxo de atacar hábitos supersticiosos daninhos e substituí-los por outros hábitos, mais racionais. Junto com o Velho Rajá, que também era um grande intelectual e reformador, ele instituiu políticas públicas de longa duração, e que depois de 100 anos, quando Will Farnaby naufrga em sua costa, ainda se encontravam em efeito.
Como já disse antes, faz tempo que li o livro, e a grande maioria das propostas de Huxley me escapam à memória agora. Entretanto, todas elas seguiam o mesmo princípio: como seria uma sociedade onde todas as suas partes servissem o bem maior, e estimulassem o desenvolvimento saudável e consciente de seus membros? Ao contrário do que acontece em "Admirável Mundo Novo", onde as pessoas trabalham para manter o sistema de consumo irrefreável funcionando às custas de sua própria individualidade, em "A Ilha", tudo trabalha para favorecer o crescimento espiritual das pessoas, e torná-las cada vez mais conscientes de si, de seu contorno, de seus deveres e de sua missão. Por exemplo, os papagaios da ilha foram treinados para falarem, de tempos em tempos, palavras como "atenção!" e "aqui e agora!" para que os palaneses fossem constantemente lembrados de que devem estar atentos, e viverem aqui e agora, e não se perderem em divagações inúteis sobre o passado ou o futuro. A família em Pala, apesar de ser constituída de forma tradicional, com pai, mãe e filhos, também é atravessada pelo CAM, Clube de Adoção Mútua. No CAM, as crianças adotam outros pais e outras mães, fora de sua família nuclear, tantas quanto quiser ou precisar. Deste modo, quando esta se cansasse de seu pai ou de sua mãe biológicas, ia para a casa de outro, onde seria acolhido como um filho. Deste modo, nenhuma criança seria obrigada a conviver o tempo todo com a neurose de seus cuidadores (ou, na melhor das hipóteses, poderia alternar entre neuroses diferentes conforme lhe convir).
A ciência em Pala também é vista de maneira diferenciada. O Velho Rajá e o médico, apesar de serem ambos entusiastas de inovações, eram também cautelosos em relação ao que deixavam entrar em Pala. Por isso, a industrialização era limitada: foram criadas plantas hidroelétricas para gerar energia para geladeiras e assim estocar a produção de alimentos por mais tempo, e plantas industriais e poços de mineração existiam em pontos específicos da ilha, mas de maneira limitada. Além disso, nenhum trabalhador era obrigado a trabalhar mais do que o necessário, para que ainda dispusesse de tempo livre para realizar suas atividades de lazer preferidas. Em nossa sociedade produtivista, que clama sempre por mais e mais coisas para comprar e logo jogar fora, isso parece absurdo, mas em Pala, o trabalho tem como principal propósito estimular o desenvolvimento pessoal, e não usar todas as energias do trabalhador para realizar uma tarefa que muito pouco o beneficia, como frequentemente ocorre em tantos empregos.
Também a vida amorosa e sexual dos palaneses é bem distinta, tanto da nossa, quanto dos habitantes de Rendang, quanto mais dos cidadãos do "Admirável Mundo Novo". Ao invés de serem forçados a engolirem diversos tabus referentes à sexualidade, os palaneses são, desde muito cedo, educados a respeito da sexualidade e, a partir de uma certa idade, estas aulas se tornam práticas, quando aprendem a arte do Maithuana, a Yoga do Amor. Aqui, o sexo não é encarado como uma prática de dominação, uma conquista de um homem sobre uma mulher ou vice e versa. É, na verdade, uma expressão de amor entre duas pessoas (qualquer que seja o gênero delas, diga-se de passagem). Existe um apego entre os amantes, mas um apego bem diferente daquele que experienciamos na sociedade ocidental, que não amarra um ao outro irremediavelmente.
Mais notável ainda é o destaque dado para a espiritualidade propriamente dita, e os ritos a ela ligados. No final de sua vida, Huxley estava muito interessado com os possíveis usos de substâncias psicodélicas, que, se bem empregadas, poderiam servir para acelerar o progresso espiritual da humanidade. Tanto Pala quanto a sociedade distópica de "Admirável Mundo Novo" possuem drogas que alteram a percepção consciente da realidade e que estão ao alcance de toda a população. O uso dado a elas, porém, é completamente diferente. Se em "Admirável Mundo Novo" o soma é usado para fugir das dores do mundo e viver em um estado artificial e patológico de felicidade, em "A Ilha" o chá feito com a planta Moksha ("libertação" em sânscrito) é empregada para o exato oposto: expansão da consciência. Também não é utilizada de maneira indiscriminada, como quem toma aspirina, e sim apenas em momentos solenes. A primeira vez é no rito de passagem da adolescência para o mundo adulto, onde os jovens passam por um teste. Tanto meninos quanto meninas precisam realizar uma escalada perigosa, do topo de um penhasco até o Templo Central da ilha, onde eles tomarão Moksha e serão instruídos sobre os deuses, o universo e seu papel nele. Depois deste episódio marcante, o Moksha é tomado apenas em situações especiais, com o intuito de levar aquele que o bebe mais próximo da Iluminação.
Talvez o que mais tenha me chamado a atenção na sociedade palanesa é a verossimilhança com que Huxley a pinta. Ao contrário de Walden II e Shangri-Lá, que parecem ter surgido do éter e funcionando de maneira impecável por passes de mágica (mesmo que seja a "Mágica Comportamental" do Dr. Skinner), Pala impõe-se ao leitor como um lugar que realmente poderia existir. Mesmo sendo uma comunidade muito avançada, especialmente em termos psicológicos, ela é composta por pessoas de verdade, e não "exemplos didáticos" como Walden II. Esta foi a parte que mais me encantou em "A Ilha" - eu posso realmente acreditar na existência de Pala, bem como de seus moradores, por que o seu sofrimento existe e é palpável. O que muda na sociedade palanesa, quando comparada com a sociedade em que vivemos, é a maneira como este sofrimento é vivenciado: não há uma luta para livrar-se da dor, de viver permanentemente em um estado forçado de alegria. Aceita-se o presente, seja o presente como for. Susie McPhail, a segunda personagem mais importante do livro, perdera o marido em um acidente de montanhismo, e frequentemente passa seus momentos solitários pensando nele, e como sente sua falta. Porém, não há nenhuma nota de autopiedade em suas reflexões, nem uma negação da realidade, e em nenhum momento ela relega sua obrigação como mãe para chafurdar na própria dor. Talvez para Skinner, o que importa na construção de uma sociedade ideal é o reforço positivo externo, o ambiente, mas será que isto não seria muito, muito mais relevante?
Pala é uma fantasia, mas pode ser tornada real. Pode ser que para que desenvolvamos uma sociedade tão avançada levemos 100 anos. Contudo, as sementes para esta utopia podem começar a serem semeadas aqui e agora, e já estão sendo. Nos meus próximos dois posts sobre Utopias, pretendo falar sobre isso. Aguardem.